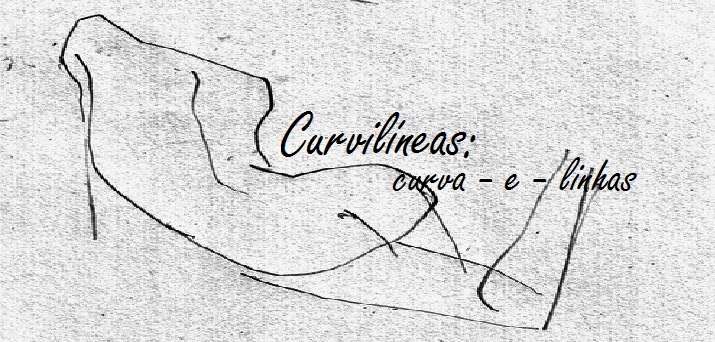Ameaçava chover quando Alicia dobrou a esquina, meio tonteando e tremendo muito. Sorriu quando Raul fez sinal para que ela fosse até ele e assim o fez, caminhando em passos em falso, tateando o bolso dianteiro a procura da caixa de fósforos, recostou-se na parede da mercearia fechada. Raul olhava as vãs tentativas da menina de acender o cigarro com as mãos trêmulas e os fósforos. Respirou fundo, rindo por dentro (e um pouquinho por fora) e estendeu o isqueiro. Era um fim de tarde de verão de céu escuro e nublado, mas de ar quente, quase febril. E Alicia tremia a não mais poder, sorrindo largo e tragando fundo, até que finalmente disse um “olá”. Olá de volta, disse Raul.
- Você está bêbada.
Ela fez que sim com a cabeça, embora o rapaz não tivesse feito nenhuma pergunta. Ele a beijou longamente nos lábios e arriscou: “você andou tomando vinho”.
- E um pouquinho de uísque.
- E muito vinho.
Ela deu uma risadinha.
- Desde que horas você está bebendo?
- Desde que acordei. Não me lembro quando acordei, porque também não me lembro quando fui dormir. – a menina deu de ombros – tudo anda tão confuso desde que... desde que. Também não me lembro.
Alicia se encolheu toda. Era se beijar e tragar entre os beijos e pensar no desde-que, no desde-quando. Reticências. Pensar em tudo o que se ganhou e se perdeu logo em seguida graças às altas que se dera ou às vezes em que se convencera – simples assim – de que ninguém nunca se curava. Eram aquelas vezes em que ela abria mão de tudo o que havia construído para abraçar uma loucura consoladora. A sanidade não estava a matando? Mais vinho. Mais insônia. Mais parâmetros inalcançáveis. Mais filosofias vãs. Ela se distraía, às vezes, simplesmente cavando um pouco mais do buraco onde se encontrava afundada. Hoje, por exemplo, tudo parecia irreal. Distante. Deliciosamente fantasioso. E ela não queria voltar.
- Você dormiu hoje, Alicia?
Ela fez que não.
- Não sei. Não muito. Não bem.
- Você esqueceu de tomar os remédios?
- Já são que horas?
Raul consultou o relógio de pulso. Eram seis e meia.
- Não tenho água aqui. - ela desculpou-se - Nadinha. São muitos comprimidos. Faz o seguinte, ainda tenho um resto da garrafa de vinho na bolsa...
Ele segurou a mão dela.
Mas ela não queria voltar. O próprio presente era um passado deliciosamente remoto ali.